Os órgãos de inteligência do governo,
principalmente das Forças Armadas, passaram o 31 de março em estado de alerta
para detectar rapidamente tanto provocações de "oficiais de pijama"
quanto manobras do "exército do Stédile" e, assim, tentar evitar
confrontos. E o que aconteceu? Nada. Poucas vezes antes neste país, o 31 de
março passou tão em branco. Desta vez, a crise corre ao largo dos militares.
O temor em Brasília era que, neste clima
político, com crises variadas, a popularidade de Dilma Rousseff no chinelo e
depois de milhões de pessoas protestando no 15 de março, o aniversário do golpe
militar de 1964 servisse de pretexto para novas demonstrações de força e
embates de rua, com resultados imprevisíveis. O temor não se confirmou e, no
final do dia, a sensação na capital da República era de alívio.
Foi como se tivesse havido um acordão entre
os militares da reserva e os militantes de Lula/Stédile para ninguém botar mais
lenha na fogueira, para os dois lados não saírem às ruas. Não houve acordo,
obviamente, só uma avaliação fria de que não estão fortes o suficiente para
mobilizar as massas e provocar comparações.
Apesar de toda a insinuação prévia de que
haveria novos atos públicos, o PT preferiu se trancar em "plenárias",
lambendo as feridas, preparando o congresso de junho e tentando traçar o futuro
numa frente com MST, CUT, UNE e acessórios que, em nome de uma guerra
extemporânea entre "direita" e "esquerda", engolem qualquer
coisa, até o indigesto desmanche da Petrobras.
Essas plenárias do partido são como uma
pausa para pensar, num momento em que a popularidade da presidente da República
bate no fundo do poço (12% de aprovação?!) e ela reza para São Levy fazer
chover e conseguir aprovar no Congresso as correções dos imensos erros que ela
própria cometeu no primeiro mandato.
Do outro lado, o militar, o que houve foi
mais do mesmo: almoço de oficiais da reserva no Clube Militar, uma meia dúzia
gritando palavras de ordem do lado de fora e outra meia dúzia fazendo confusão
em local fechado de São Paulo. Nada que mereça o título de
"manifestação", só pés de páginas nos jornais. Isso só reforça que,
desta vez, as Forças Armadas não têm nenhum protagonismo. Mesmo nos bastidores,
os militares debatem a crise como qualquer cidadão: com espanto. Sem intenções,
sem objetivos.
São os agentes políticos que estão em
retiro espiritual, não exatamente por causa da Semana Santa, mas para tentar
entender a dramaticidade do momento, projetar os cenários possíveis e já se
contorcendo para poder mais adiante se encaixar em diferentes hipóteses.
Dilma está em suspenso, à espera de Levy.
Levy depende desesperadamente do Congresso. O Congresso é todo olhos e ouvidos
para as ruas. Lula e o PT, atarantados, pedem socorro para as centrais e
movimentos engajados. Os movimentos engajados descobrem que não é hora de medir
forças com as classes médias irritadas. E a oposição, um tanto deslocada do
centro da cena, fica atenta à panela de pressão para decidir a hora de aumentar
ou de diminuir o fogo. Além de avaliar se poderá, ou não, assumir algum tipo de
liderança nas manifestações de rua e se chegará, ou não, o momento de jogar
algo, ou alguém, na fervura.
A próxima grande manifestação popular está
prevista para 12 de abril, primeiro domingo depois da Páscoa, e deve responder
a uma pergunta que não quer calar, no governo, na oposição, muito
particularmente no PMDB: se a explosão de 15 de março vai aumentar mais e mais,
ou se aquele grito bastou e agora a grande maioria vai preferir ouvir pela
janela, panelas à mão. Ou seja, se aqueles milhões foram às ruas e se
recolheram, ou se foram para ficar.
Os militares estão quietos no canto deles,
mas, além dos advogados, dos policiais federais, dos procuradores e dos
jornalistas, outra categoria que vem trabalhando demais ultimamente são os
agentes de inteligência do governo. Nem eles, porém, têm resposta para a grande
pergunta da crise: no que tudo isso vai dar?
Comente este artigo.










 Visitas
Visitas

 Desde: 15/07/2009
Desde: 15/07/2009 Meta (1.000) seguidores
Meta (1.000) seguidores
 Você visitou o blog:
Vezes
Você visitou o blog:
Vezes 

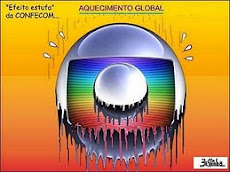
















































Nenhum comentário:
Postar um comentário