

O medo é um vilão teimoso, implacável. Em cada esquina ele espreita os fracos tornando-os indecisos e pessimistas. Visto pelo prisma do senso comum, sem nenhum princípio científico, concluímos existirem medos para todos os gostos: medo de tentar e fracassar; medo de amar e sofrer; medo de investir e perder... Medos, digamos, domésticos, aqueles que traduzem riscos de vida (perder a vida), por exemplo: não aprendo nadar porque morro de medo de afogar; medo de peçonhentos; medo de acidente, de incêndio, medo de pegar resfriado... Outros menos relevantes, medinhos bestas e enxeridos que também nos infesta o imaginário: o medo de dormir e ter pesadelo; medo de “mandruvá”; medo de levar uma queda e cair no ridículo, e daí por diante.
Odeio o medo, porque ele me persegue, ronda os meus passos desde a infância, apesar de crer não ter sido a criança mais medrosa do mundo, pois “não tinha motivos” para tanto. No meu acervo fantasmagórico havia somente umas centenas de assombrações que, combinadas, protagonizavam causos em noites alambradas de breu, mais uns trezentos e sessenta e cinco cachorros-doidos, ou seja, um para cada dia espalhando vírus mortais por todos os meus ermos caminhos. Entre outras alegorias folclóricas de todos os tamanhos e diversificadas configurações, atemorizava-nos ainda o fogo fátuo, a misteriosa mãe-do-ouro, que aparecia e sumia sobre as matas. Se nos outros o medo dói eu não sei, mas, em mim doía muito! Quando precisava fazer alguma coisa em lugares pouco iluminados, os preferidos dos fantasmas e que na roça eram todos, ia eu, tremendo e arrastando as pernas travadas; porém, na volta, era uma carreira só, com um frio doendo nas costas. Presumindo ser hereditário tal excesso de temor, investigo o passado...
Quando o tempo resolvia fechar as cortinas do firmamento, toda a biosfera estremecia temerosa de que o espetáculo final pudesse ser desentoado, e que os aplausos fossem abafados pelos gritos dolentes da natureza ferida. Os dissimulados clarões que principiavam muito distante não conseguiam camuflar a tempestade que prometia. E Noé, que se preparasse.
O pai desfiava o seu hinário em forma de assobio que começava quase imperceptível e ia se intensificando na medida em que a chuva se aproximava. Ele andava de um lado para outro dentro de casa, passando a mão na barriga. Eram os primeiros sinais do pavor que uma possível chuva braba lhe impingia. O ribombar dos trovões e os relâmpagos riscando o céu, já nos encontravam sentados, feito andorinhas no fio, no bancão de aroeira no salão dos “causos”. Mas, desta vez, seu Arismundo não chamara para nos contar nenhuma história, era para rezar mesmo! Somente os cânticos assobiados não foram suficientes para aplacar o temporal, nem os seus efeitos colaterais: o proeminente desconforto abdominal a que o submetia. De pé, em frente a nós, ia regendo aquela cantoria, em meio a fumaça dos morrões que eram queimados para São Jerônimo e Santa Bárbara, santos solicitados a cada susto de um estalo. Lá fora, os animais fremiam, espremendo-se uns contra os outros tentando se fazerem caber na varanda do paiol. O pé d’água caía com vontade. A casa agora era uma lagoa, e nós, ali, firmes na vigília, solidários ao nosso pai.
Não sei se, por falta de algum espaço desocupado em mim para caber medo de mais alguma coisa ou se nos valeram tantas orações, chuva é uma das poucas coisas que nunca temi. Chuva é cheiro de milho verde e cambuquira, é benção.
Maria Júlia Franco.
Aproveite e opine sobre este texto.










 Visitas
Visitas

 Desde: 15/07/2009
Desde: 15/07/2009 Meta (1.000) seguidores
Meta (1.000) seguidores
 Você visitou o blog:
Vezes
Você visitou o blog:
Vezes 

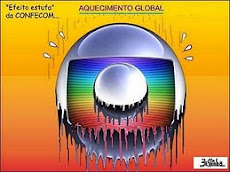
















































Muito boa matéria.
ResponderExcluirAbraços forte
Muito bom o post. o medo é secular e é um obstaculo que requer muito esfoço para ser derrubado.
ResponderExcluir