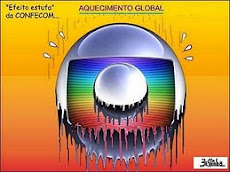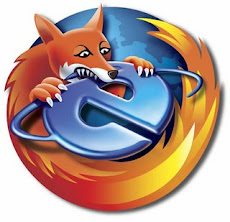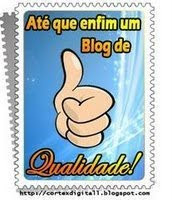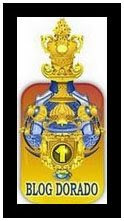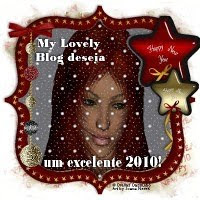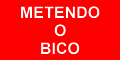Durante décadas no Brasil o acesso à educação
Superior era restrito às famílias denominadas
nobres, ou seja, aquelas que tinham recursos
financeiros para garantirem a seus herdeiros
acesso e permanência no ensino superior, (quase
sempre localizado nas capitais e grandes
centros urbanos). Conforme Teixeira (1989), saímos
de 24 escolas de ensino superior em 1900
para 375 em 1968. Já em 2020, conforme Censo da
educação superior, foram registradas
2.456 instituições com um total de matriculas de
8.680.354 (INEP/MEC, 2022).
O avanço das matriculas na educação superior
pública se deu entre os anos 2000 e 2010.
Conforme Barros (2015), as matrículas mais que
dobraram no período. Programas como
Universidade Para Todos e Reuni possibilitaram a
descentralização das IES para cidades do
interior, diversificando os tipos de cursos e
períodos de realização.
As camadas mais pobres da população brasileira,
que até então não tinham recursos para o
deslocamento e permanência em cidades distantes de
suas origens e familiares e cuja grande
parte, para sobreviver, necessitava trabalhar e
ajudar nas despesas familiares, começava a
vislumbrar a possibilidade de ingressar no ensino
superior.
A democratização do acesso (cotas/reservas de
vagas) às universidades públicas, somada ao
processo de descentralização das instituições,
trazendo-as para mais perto de seus locais de
origens, contribuiu para que um significativo
número de aluno(a)s das camadas populares
ingressassem em uma universidade pública, apesar
da maioria das matrículas ainda estarem
na iniciativa privada.
Após duas décadas dessa política de ampliação de
vagas e de democratização do acesso,
originários da educação básica pública, negro(a)s,
indígenas, quilombolas, pessoas com
necessidades educativas especiais na educação
superior passaram a integrar a paisagem das
universidades públicas dando a sensação de que,
finalmente, o ensino superior era de todos e
para todos . Grande engano!
Além da garantia do acesso, era preciso se pensar
urgentemente em políticas de permanência
e de sucesso no ensino superior para esses grupos
tradicionalmente excluídos desse nível da
educação nacional. Mesmo sendo pública e gratuita,
manter-se no ensino superior custa muito
caro. Alimentação acesso a material da
reprografia, deslocamento, roupa, sapato, material
didático em geral, tudo isso tem um custo alto.
Mal o(a)s estudantes das camadas mais
vulneráveis economicamente da população brasileira
adentram às instalações das
universidades públicas e já percebem que não será
uma trajetória fácil.
Conforme decreto 7.234/07/2010. “O Plano Nacional
de Assistência Estudantil (Pnaes) apóia a
permanência de estudantes de baixa renda
matriculados em cursos de graduação presencial
das instituições federais de ensino superior. O
objetivo é viabilizar a igualdade de
oportunidades entre todos os estudantes e
contribuir para a melhoria do desempenho
acadêmico, a partir de medidas que buscam combater
situações de repetência e evasão”.
Com o sucateamento da educação superior em nível
estadual e federal, “assistência à moradia
estudantil, alimentação, transporte, à saúde,
inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio
pedagógico”, estão extintas ou minimizadas nas
IES.
Dentre as dificuldades que enfrentam talvez as
mais difíceis sejam a insegurança alimentar e o
cansaço.
Com o retorno às aulas presenciais após dois
longos e difíceis anos da pandemia de Covid-19 e
durante uma das maiores crises econômicas que o
país enfrentou nos últimos 27 anos, tem
sido comum encontrar discentes que após
vivenciarem perdas da família, doenças físicas e
psicológicas chegam famintos à universidade e/ou,
sem acesso á moradia próxima ao campus,
que precisam se levantar ainda de madrugada para
garantir o transporte de sua cidade, só
retornam para lá quando a noite termina.
Como docente de uma instituição pública de ensino
superior, percebo durante as aulas a
dificuldade de concentração desse(a)s jovens, o
esforço que fazem para esconder sua
necessidade de se alimentar corretamente e a perda
gradual de esperança em encontrar os
recursos mínimos para estarem ali.
Nesse contexto, o mínimo que a universidade
pública que se quer democrática precisaria
garantir seria a manutenção de um autêntico
restaurante universitário. Não estou falando de
uma cantina terceirizada que recebe da instituição
vouchers para subsidiar a alimentação para
poucos estudantes. Estou falando de um restaurante
mantido por recursos públicos com
alimentação subsidiada para todos e todas da
comunidade universitária. Um restaurante cuja a
comida também refletisse a ciência que é produzida
pela universidade, isto é,
saudável,diversificada, balanceada e segura.
Sem esse mínimo a universidade pública está fadada
a não conseguir cumprir os seus
propósitos de permanência estudantil. Enquanto a
luta pela satisfação das necessidades
básicas estiver maior do que as condições para o
estudo estarão nós, enquanto universidades,
fracassando em produzir conhecimentos e emancipar
a humanidade.
Em tempos de pós-pandemia e de crise econômica,
pensar a segurança alimentar de nossa
comunidade universitária tornou-se fundamental
para manter nosso(a)s estudantes na
universidade. E a fome não pode esperar!
É preciso que, enquanto coletivo, se faça algo
agora! Pela imediata implantação do restaurante
universitário já! Contra os valores absurdos que
contribuem e fortalecem a exclusão.
Prof. Dr. Reginaldo de Souza Silva, Departamento
de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –
UESB/DFCH







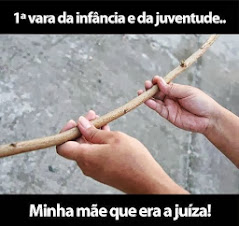



 Visitas
Visitas

 Desde: 15/07/2009
Desde: 15/07/2009 Meta (1.000) seguidores
Meta (1.000) seguidores
 Você visitou o blog:
Vezes
Você visitou o blog:
Vezes